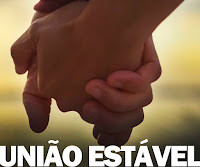Nos termos do art. 226, § 3º da Constituição Federal de 1988 é reconhecida a
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei
facilitar sua conversão em casamento.
O art. 1723 do Código Civil
menciona que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem
e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e
estabelecida com o objetivo de constituição de família.
União estável homoafetiva (entre pessoas do mesmo sexo)
Apesar de a lei mencionar como
união estável a existente entre um homem e uma mulher, o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADPF 132 e da ADI 4277, entendeu que, diferenciar união homoafetiva de união heteroafetiva,
não coaduna com os objetivos constitucionais, reconhecendo a união entre pessoas
do mesmo sexo como uma nova forma de entidade familiar, dando a ela, o mesmo
tratamento dado à união estável heteroafetiva, veja:
UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da ação. 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de “promover o bem de todos”. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana “norma geral negativa”, segundo a qual “o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido”. Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do princípio da “dignidade da pessoa humana”: direito a auto-estima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea. 3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão “família”, não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus institucional de concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por “intimidade e vida privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo como categoria sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para manter, interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. 4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A referência constitucional à dualidade básica homem/mulher, no §3º do seu art. 226, deve-se ao centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente combate à renitência patriarcal dos costumes brasileiros. Impossibilidade de uso da letra da Constituição para ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu parágrafo terceiro. Dispositivo que, ao utilizar da terminologia “entidade familiar”, não pretendeu diferenciá-la da “família”. Inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico. Emprego do fraseado “entidade familiar” como sinônimo perfeito de família. A Constituição não interdita a formação de família por pessoas do mesmo sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não-equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade do §2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e garantias, não expressamente listados na Constituição, emergem “do regime e dos princípios por ela adotados”, verbis: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 5. DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso convergiram no particular entendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da imediata auto-aplicabilidade da Constituição. 6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de “interpretação conforme à Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. (ADPF 132, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 05/05/2011, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-01 PP-00001).
Direitos e deveres dos conviventes na união estável
Constituem direitos
e deveres iguais dos conviventes, o respeito e consideração mútuos; a assistência
moral e material recíproca, bem como, a guarda, sustento e educação dos filhos
comuns.
Divisão de bens na união estável
Os bens móveis e imóveis
adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e
a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum,
passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo
estipulação contrária em contrato escrito.
Se a aquisição patrimonial
ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união, estes
não se presumirão comuns.
Quanto à administração do
patrimônio comum, esta compete a ambos os conviventes, salvo estipulação
contrária em contrato escrito.
Pensão alimentícia entre os conviventes na união estável
Em caso de dissolução de união
estável, deverá ser prestada assistência material por um dos conviventes ao que
dela necessitar, a título de alimentos.
Direito real de habitação na união estável
Em caso de morte de um dos
conviventes, o sobrevivente tem direito real de habitação, enquanto viver ou não
constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à
residência da família.
Da conversão da união estável em casamento
Os conviventes poderão, de
comum acordo e a qualquer tempo, requerer a conversão da união estável em
casamento, por requerimento ao Oficial do Registro Civil da Circunscrição de
seu domicílio.
Da competência da Vara de Família para tratar de ações e processos que versem sobre união estável
Toda a matéria relativa à
união estável é de competência do juízo da Vara de Família, assegurado o
segredo de justiça.
Bibliografia:
Constituição Federal do Brasil de 1988 | Lei nº 9.278/1996 | Código Civil de 2002
Se você tem alguma dúvida a respeito do assunto ou
precisa ingressar com ação de dissolução de união estável, nos colocamos a disposição para lhe auxiliar.